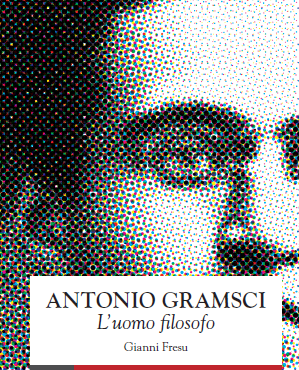A dialética entre a chamada Globalização e o Estado nacional.
Gianni Fresu
“Revista Princípios”, n. 140, janeiro fevereiro 2016, pag. 65-74 (ISSN: 2358-0690), Editora Anita Garibaldi, São Paulo.
Os processos de mundialização da economia não são um fenômeno recente, mas uma tendência que atravessou em profundidade toda a fase de expansão da economia gerada desde a revolução industrial, e também, em formas diferentes, as fases precedentes. Não é casualidade o fato de Marx e Engels tratarem, já no Manifesto do Partido Comunista, do processo de internacionalização da produção, do consumo e do abastecimento das matérias primas. Uma condição de interdependência que determina novas exigências, envolvendo também a produção imaterial num processo que «das literaturas nacionais e locais se desenvolve para uma literatura mundial». Mas é, sobretudo, a própria universalização do modo de produção e distribuição burguesa que esclarece que a origem dos fenômenos geralmente definidos como “globalização” não é recente:
Com o rápido avanço de todos os instrumentos de produção, com as comunicações infinitamente mais cômodas, a burguesia atira na civilização a todas as nações mais bárbaras. Os baixos preços das suas mercadorias são a artilharia pesada com a qual derruba todas as muralhas chinesas e com que obriga à capitulação até a mais obstinada xenofobia dos bárbaros. Ela obriga todas as nações a adotar o sistema de produção da burguesia, ainda que não queiram introduzir nos seus países a chamada civilização, ou seja, tornarem-se burgueses. Numa palavra, ela cria um mundo à sua imagem e semelhança[1].
No terceiro volume do Capital está indicado com mais precisão como o controle das colônias – não só como destinação das mercadorias, mas como lugar onde exportar capitais e explorar mão de obra a baixo custo – apresenta-se como uma resposta à queda tendencial da taxa de lucro. Já no Capital Marx assinala que a divisão dos países subdesenvolvidos entre as potências é uma tendência destinada a aumentar exponencialmente e que ela não corresponde às velhas formas do colonialismo original, mas assume uma função avançadíssima para garantir uma nova remuneração dos capitais indispensável para compensar aquela queda tendencial[2].
A dialética conceitual entre a chamada globalização e questão nacional envolve dinâmicas, sujeitos e opções ideológicas bem diferentes. Por exemplo, além dos grupos políticos não-globais, o surgimento de movimentos que reivindicam novos espaços de soberania ou independência no seio dos velhos Estados nacionais representa um elemento que contradiz profundamente as previsões dos teóricos do paradigma da globalização, levando consigo algumas contradições históricas não resolvidas pela internacionalização da economia.
Estes movimentos levam ou favorecem a uma nova valorização das originárias matrizes linguísticas, étnicas e culturais submetidas no passado pelos processos de integração nacionais; isso acontece não só nas regiões periféricas, subdesenvolvidas ou ex-colônias, mas também no centro da Europa. Pensemos por exemplo nos muitos movimentos independentistas em nações como Espanha, Itália, França, Grã-Bretanaha e no seu incrível desenvolvimento nos últimos dois decênios.
Este fenômeno é provavelmente uma das mais claras negações das afirmações sobre o suposto fenômeno da extinção do Estado que tanto os apologistas da globalização (globalistas), quanto os seus contestadores (não-globalistas), identificam como resultado desse processo irreversível, conexo à internacionalização das relações políticas e econômicas. Pelo contrário: o desafio à integridade político-territorial dos Estados lançada a partir das políticas de identidades levadas por estas áreas étnicas e regionais não almejam à eliminação do Estado-nacional, mas, ao contrário, expressam a vontade de construir novos Estados independentes.
Globalistas e Não-Globalistas
Na passagem do século XX ao XXI o pensamento liberal celebrou o seu predomínio mundial por meio daquele novo paradigma das relações internas e internacionais chamado “globalização”. Isso favoreceu o surgimento de vários estudos, pesquisas e publicações nas quais foi afirmado o nascimento de uma nova idade da história da humanidade, com a superação das estruturas pré-modernas, onde tudo era fatalmente destinado a mudar por efeito do primado das leis do mercado, indomáveis a qualquer tentativa ideológica de regulamentação da política.
Muitos estudiosos falaram da globalização como uma marcha inevitável da humanidade, com a queda definitiva de todas as barreiras nacionais, para uma única sociedade e civilidade mundial baseada no capitalismo. O exemplo mais famoso é Francis Fukuyama que já num artigo do 1989 lançou a hipótese de que a democracia liberal, triunfante sobre as outras ideologias rivais, tivesse sido o ponto de chegada da evolução da humanidade, a definitiva forma de governo entre os homens, porque, ao contrário das outras, demostrou-se sem profundas contradições internas. A tese sobre a extinção do Estado nação e sobre a natureza transnacional do capitalismo mundial pareciam fornecer uma explicação plausível às novidades mais superficiais e emergentes que saiam do contexto internacional com a fim da guerra fria[3].
Entre estas previsões, muito se falou sobre uma progressiva superação dos Estados nacionais e da libertação do capitalismo dos condicionamentos políticos ideológicos. Seria um processo tortuoso sem tarefas nem conexões políticas, unicamente guiado por uma sua lógica que tem sua origem nas aspirações dos homens a melhorar o próprio destino e que se realiza por meio do inexorável mecanismo do mercado. A globalização é, assim, apresentada como entidade dotada de vida própria, sem conexões com a política. Da mesma maneira, até o surgimento da crítica da economia política, as leis do mercado eram apresentadas como fruto de uma ordem natural e não como o resultado de um processo político-econômico historicamente determinado. A economia política não era considerada correspondente a um padrão ideológico –o liberal – mas sim como a objetiva ciência econômica; o mesmo aconteceu com a globalização e a representação do capital transnacional e das leis do mercado global como entidades sem donos nem raízes nacionais.
Segundo um estudioso como Antony McGrew[4] seria útil ir além das leituras mais ideológicas e infecundas para chegar a uma investigação conceitual rigorosa da globalização, sem reduzi-la simplesmente à pura lógica econômica, capaz de localizar historicamente as formas da globalização para compreender as suas dinâmicas e as interconexões espaço-temporais.
O termo globalização tem interpretações diferentes e as vezes contrastantes entre si, mas tais definições não necessariamente são alternativas, pelo contrário, a natureza complexa e as suas múltiplas dimensões levam a um mosaico de conceituações onde diferentes interpretações apresentadas como opostas podem ser, na realidade, complementares: cada uma delas ajuda a explicar um aspecto, mas não a totalidade do fenômeno. As variantes fundamentais que entendem os elementos materiais, espaço-temporais e cognitivos da globalização são tendencialmente mais orientadas à recíproca integração do que à contradição.
Antes de mais nada, para McGrew, a globalização não é simplesmente uma mudança em extensão e tamanho das relações e das atividades sociais, mas envolve uma ampla reorganização e rearticulação do poder econômico, político, militar e cultural. Em segundo lugar, contrariamente à vertente que apresenta este fenômeno como algo totalmente novo e original, ele sublinha a sua natureza processual e a origem histórica que não é recente.
Os processos de globalização têm, assim, raízes na revolução geográfica e mercantil do século XVI e desenvolvem-se em três fases, até a idade contemporânea, que são definidoras de todas as formas históricas da globalização, embora diferentes para caraterísticas geográficas, infraestruturas de poder e organização. Comparar estas formas históricas é a única maneira de localizar os novos elementos. Nesse processo é possível falar seguramente de uma progressiva limitação na soberania estatal, todavia, não seria verdadeira a tese sobre o esvaziamento o a erosão do Estado e ainda menos aquela sobre a sua extinção pela internacionalização. Pelo contrário, as interconexões globais levam ao emergir de um Estado ainda mais ativo, pois ele é constrangido a instaurar intensas colaborações e cooperações multilaterais, sendo envolvido em estruturas de governance globais ou regionais. A verdadeira mudança da originaria concepção westfaliana da soberania acontece na superação da distinção entre questões internas e internacionais, que levam os primeiros a ser internacionalizados e os segundos a ser domesticados.
Outros estudiosos, como Robert Gilpin[5], contestam a ideia pela qual as forças transnacionais da globalização econômica teriam enfraquecido a soberania e as funções do Estado nacional. Ele afirma, ao contrário, que este sujeito permanece como ator principal, seja nos negócios internos, ou nos internacionais. Portanto, é verdade que o Estado-nação sofre vários ataques que determinam profundas mudanças, mas estes não significam a eliminação do Estado. Seguramente as implicações transnacionais da economia impuseram mudanças no conceito de soberania Estatal, mas em Gilpin tanto a extensão do que é definido como globalização econômica, como as suas consequências políticas, foram superdimensionadas. O mundo atual permanece dominado pelos Estados. A realidade é, assim, bem mais complexa do que a das representações superficiais sobre a globalização.
A chamada globalização econômica, além do ser mais limitada do quanto em geral não se reconheça, tem um impacto político bem irregular que muda profundamente em relação ao contexto. Os serviços e a produção industrial ficam menos globalizados em comparação com a finança, os efeitos da internacionalização sobre a soberania mudam profundamente em relação ao tamanho e a potência econômica da nação. Assim as grandes potências como os EUA e a Europa ocidental seriam menos sujeitas à desestabilização dos fluxos financeiros do que os pequenos Estados. Contrariamente ao mito que prevalece, segundo Gilpin, não só a globalização não erodiu a soberania estatal das grandes potências, como incrementou a sua importância, particularmente para a competitividade internacional e a liberalização dos fluxos de capitais e mercadorias. Podemos compreender nesse sentido a extensão da hegemonia alemã na península balcânica, que favoreceu a destruição da República jugoslava nos anos 1990, ou aquela da União Europeia para o leste até a Ucrânia hoje.
Também Segundo David Held[6], a tese sobre a fim do Estado nacional seria uma leitura superficial do recente desenrolar histórico. E,mbora os múltiplos níveis de governance internacional possam produzir momentos de limitação e desestabilização das esferas tradicionais do exercício das soberanias estatais, em última análise, o resultado é um aumento dos setores da intervenção do Estado nacional, a entidade que também nesse contexto segue como o principal ponto de referência.
O que, segundo ele, é superado (por efeito da crise das posições liberais e marxistas) não é o Estado nacional, mas a polarização clássica entre as concepções que atribuem alternativamente ao Estado ou ao povo a titularidade da soberania. Isso porque a globalização mostrou os limites e as unilateralidades das duas concepções opostas: conceber a política como esfera só institucional, separada da sociedade civil, que não interfere nas regras do mercado; considerar a realidade política e institucional como consequência imediata e direta das relações de produção, subestimando todos aqueles elementos não diretamente reconduzíveis à estrutura econômica. Uma crise que vai envolver também as duas articulações contemporâneas dessas ideologias: o chamado pensamento neoliberal dos Iper globalistas e o a nova teoria comunitária pós-ideológica dos chamados dos Não-globalistas.
Imperio global ou imperialismo?
A globalização se reafirmou historicamente cada vez que se determinou um novo desenvolvimento nos transportes, nas comunicações, nos comércios. As últimas quatro décadas do século XIX geralmente são definidas como a idade da Segunda revolução industrial que, sem qualquer exagero determinista, tratou-se de um processo internacional que em pouco tempo transformou radicalmente sistemas de produções, relações sociais, dinâmicas políticas e também estilos de vidas. Estas mudanças produziram uma confiança sem limites no progresso industrial e científico, que contribuíram para que se afirmassem os mitos do positivismo filosófico e do determinismo econômico social. Na cultura, na arte, nos fenômenos do costume estes foram anos de incrível otimismo, riqueza e luxo para a burguesia – os famosos anos da “belle époque”. A principal revolução que, nesse contexto, levou à internacionalização do mercado e da produção foi a dos meios de transporte, em primeiro lugar com a idade áurea das ferrovias e a realização de ligações antes impensáveis, como a linha de trem New York San Francisco (o emblema da conquista do West) realizada entre o 1862 e 1869, a Transandina entre Chile e Argentina acabada no 1910, a Transiberiana (1891-1904) entre Mosca e Vladivostok. A aplicação das descobertas científicas na navegação favoreceu a construção de navios mais velozes e grandes com a realização de novas rotas: no 1869 foi finalizado o istmo de Suez, que devolveu ao Mar Mediterrâneo a sua antiga centralidade como lugar de conexões entre ocidente e oriente; no 1859 foi realizado o canal de Kiel que acrescentou as comunicações no Mar do Norte; no 1914 foi a vez do Canal de Panamá. Hoje se fala muito da chamada globalização, mas na verdade a maior internacionalização do mercado foi neste período histórico que antecede a primeira guerra mundial.
Como escreveu Paul Bairoch[7], a história comercial dos países desenvolvidos foi quase inteiramente uma história protecionista. Com a exceção da Inglaterra, que assumiu uma posição favorável ao liberalismo no mercado só 150 anos depois a sua Revolução Industrial, a política do lassez fair se desenrolou apenas para dois decênios coincidentes com a fase mais crítica da economia no século XIX. Através de uma articulada investigação histórico-econômica Bairoch destruiu a mitologia sobre a existência real de uma idade áurea da liberdade de troca europeia, invertendo a afirmação tradicional segundo a qual a liberdade de troca seria a regra e o protecionismo a exceção. Pelo contrário, a história da economia mundial nos explica que a regra é o protecionismo e a liberdade de troca a exceção. Bairoch destruiu a mitologia sobre o desenvolvimento daquele século, afirmando que o nível do crescimento no período 1800-193 foi bem menor do que os economistas afirmavam, não ultrapassando um índice médio anual de 1,5% do PIB.
Sobre este contexto geral, Lenin escreveu em 1916 a sua obra (Imperialismo fase suprema do capitalismo) mais famosa e politicamente explosiva, mas que recentemente foi objeto de multíplices contestações pois tanto Globalistas, quanto Não-Globalistas afirmaram a total inatualidade, na época da globalização, da categoria abordada nessa obra: o imperialismo. Segundo Lenin, entre 1860 e 1870 alcança-se o apogeu da livre concorrência; com a crise de 1873 começa a delinear-se o sistema dos carteis; depois, entre 1890 e 1903 (ano do começo de uma nova crise), observa-se um crescimento nos negócios e nas trocas que levam para uma crescente concentração e centralização dos capitais. A organização por carteis se torna base fundamental de toda a vida econômica e não mais um fenômeno transitório ligado a um momento da conjuntura. Segundo a expressão de Lenin, o capitalismo transformou-se em imperialismo.
Ligada a essa evolução do modo de produção, temos uma crescente contraposição internacional dos interesses nacionais. A interpretação científica do aumento da conflitualidade entre as grandes potências capitalistas pelo domínio dos países coloniais até o estouro da primeira guerra mundial, produz um violento enfrentamento político e intelectual no começo do XX século. O primeiro trabalho que se refere às transformações nas modalidades de domínio e expansão do capitalismo é Imperialism, escrito no 1902 pelo economista John Atkinson Hobson[8], depois, no 1910 o intelectual marxista Rudolf Hilferding[9] editou O capital financeiro, um trabalho indispensável no percurso de análise sobre as transformações nas relações entre capital bancário e produtivo. Sinteticamente Lenin definiu as caraterísticas do imperialismo em cincos pontos essenciais:
- A concentração e centralização dos capitais até tendências monopolistas, que com pequenos grupos – com o sistema das Holdings e das sociedades a cadeia – controlam inteiros setores produtivos;
- A prevalência do capital financeiro sobre a produção, como resultado do estreito entrelaçamento entre capital bancário e industrial;
- A prevalência das exportações dos capitais em comparação com as mercadorias – e então a pesquisa de áreas onde explorar a mão de obra a baixo custo e madeiras primas.
- A divisão do mundo em áreas de influencias e domínio;
- O uso da guerra como instrumento para obter novas repartições, a superação da condição da estagnação econômica e por fim à crise.
O processo de concentração e centralização dos capitais para formas monopolistas leva «à mais universal socialização da produção», todavia, a apropriação dos produtos e dos lucros permanece privada, «os meios sociais de produção ficam também sob a propriedade de um pequeno número de pessoas. Não muda o quadro geral da livre concorrência, formalmente reconhecida, mas a opressão que os poucos exercem sobre o resto da população é cem vezes mais grave e insuportáveis»[10].
Lenin descreve esta luta entre os grandes monopólios para o domínio de produção e mercados com métodos violentos que tem precedente somente na própria origem do capitalismo e na expropriação dos trabalhadores dos seus meios de produção, com a privatização dos campos e acumulação originária dos capitais. Nesse processo assume um valor absoluto a transformação de formas e funções dos bancos. Em primeiro lugar temos a eliminação daqueles pequenos pelos grandes, e depois à mudança deles em proprietários dos capitais das empresas. Com a transformação financeira da economia e o crescimento dos negócios surge um único «capitalista coletivo». O progressivo crescimento das funções dos bancos leva, por fim, as empresas a tornarem-se sempre mais dependentes, até a fusão com as maiores empresas industriais e comerciais, por meio da posse das ações e o ingresso nos conselhos da administração das empresas. A simbiose entre capital bancário e industrial leva ao nascimento de um novo capitalismo, o financeiro, que identifica os seus interesses com aqueles nacionais e vice-versa, assim «a união pessoal dos bancos com as indústrias é completada com a união pessoal de ambos com os governos». A pedra angular deste sistema fica naquele que Lenin define como o sistema da participação das holdings com o qual, a partir do controle de um bloco acionário, logra-se controlar setores produtivos inteiros. Este sistema, escreve Lenin, favorece a manipulação, a fraude no balanço fiscal, com dano para o público, pela irresponsabilidade das empresas mães em relação às empresas filhas. O desenvolvimento enorme antes e depois da primeira guerra mundial, até a crise do 1929, favoreceu este processo doente da economia.
Em comparação com o capitalismo clássico, cuja finalidade estava na exportação de mercadorias, o capitalismo monopolista tem a tarefa de exportar capitais. No capitalismo, escreve Lenin, os lucros e proveitos não são utilizados para elevar o nível de vida das massas populares no próprio país, porque o aumento dos salários teria produzido a diminuição dos rendimentos. O capitalismo pesquisa novas formas de remuneração do capital exportando-o a países ainda não desenvolvidos – como se deu por exemplo no Brasil, onde foi possível explorar mão da obra e matérias primas a baixo custo. Assim, na fase de maturidade do capitalismo a exportação dos capitais se torna uma exigência fundamental para evitar a queda tendencial da taxa de lucro e para alcançar dois objetivos: aumentar os lucros e obter uma redução do custo do trabalho na pátria mãe por meio da concorrência do trabalho disponível nas colônias, uma outra dinâmica muito atual, aliás, no capitalismo contemporâneo.
A luta para o controle do mercado mundial, leva, portanto, a divisão internacional para a esfera de influência dos grupos monopolistas e dos estados que encarnam seus interesses. Trata-se de um fenômeno que tem o seu apogeu entre o final do século XIX e a primeira guerra mundial. O domínio colonial tem diferentes gradações: desde a conquista militar direta até a penetração dos capitais e a exploração exclusiva nos territórios dos estados formalmente independentes mas na prática sujeitados às grandes potências. Todo isso gera uma luta cada vez mais violenta entre elas.
Quanto mais o capitalismo é desenvolvido, tanto mais aguda é a concorrência e a caça às fontes de matérais primas e a luta para a conquista das colônias. Assim o capital financeiro, em geral, faz esforços para tomar o maior número possível de territórios, em busca não só de possíveis fontes de matérias primas, mas também temendo perder a disputa pelo controle do último pedaço de terra não ainda dividido[11].
Por isso, a consequência última e a natureza do imperialismo é o seu instrumental de guerra, dado que a redivisão do planeta (já dividido anteriormente) é o modo de escapar à estagnação e à crise econômica, com a conquista de novos potenciais lucros e garantir a lucratividade das grandes empresas por meio do estado de guerra. O desastre da primeira guerra mundial é a tradução concreta deste processo, num momento em que as contradições entre as potências capitalistas não tinha mais solução.
Geralmente a crise do 1929, assim como a primeira guerra mundial, é apresentada como uma consequência desse tipo de desenvolvimento da economia, mas, novamente, Bairoch contesta essa representação, assim como as afirmações sobre a profundidade dessa crise. Segundo ele, por exemplo, os anos 1920 não foram seguramente anos de liberdade entre as trocas comerciais, mas também não foram o apogeu do protecionismo alfandegário, e para confirmar essa afirmação ele esclarece que naquela década quase todo os países reduziram os próprios impostos alfandegários. Dessa forma o período que precedeu a queda do 1929 foi caraterizado por políticas comerciais mais abertas em comparação com as décadas anteriores.
Segundo Gilpin, os processos de integração da economia mundial contemporânea são na realidade irregulares e limitados a algumas frações da economia, ao ponto que se pode afirmar que para muitas questões o mundo atual parece menos integrado do que no século XIX e até a primeira guerra mundial. Sob o regime do Gold Standard e a influência da doutrina do “lasseiz faire” os mercados foram mais determinantes e os governos tinham pouco poder sobre os negócios econômicos, enquanto os governos nacionais, hoje, têm mais instrumentos para gerir as próprias economias. E assim, em relação à dimensão internacional, o comércio, os investimentos e os fluxos financeiros foram mais extensos ao final do 1800 do que hoje.
A mudanças caraterísticas do século XX envolvem a forma e a velocidade dos fluxos econômicos entre os confins nacionais e a inclusão de sempre mais países na economia global. A globalização econômica é concentrada em alguns polos – EUA, UE, BRICS – que gerem a maioria dos lucros e das estratégias da economia mundial. O único âmbito pelo qual é possível falar verdadeiramente e em maneira acabada de fenômeno global é a finança, mas também essa precisaria ser analisada com cuidado considerando-se sempre o papel das políticas estabelecidas pelos Estados, em particular aqueles mais fortes sobre o plano econômico e militar. Ao mesmo tempo, muitos dos problemas que os movimentos não-globalistas (hoje em crise, mas muito amplos entre 1998 e 2003) atribuíam à globalização, na realidade, foram a consequência de políticas nacionais e escolhas realizadas pelos governos nacionais.
Um exemplo disso é a poluição do meio ambiente muitas vezes considerada, em termos gerais, o fruto da globalização, mas que concretamente tem uma raiz estatal-nacional. A tendência a acusar a globalização para todos os problemas da vida moderna, assim como o atribuir apologeticamente a ela o mérito de cada mudança positiva, choca-se com uma realidade bem mais complexa na qual é possível localizar sujeitos e forças materiais mais concretas do que geralmente se indica com esse paradigma.
Então, Globalistas e Não-globalis parecem quase compartilhar o mesmo quadro analítico das dinâmicas internacionais, embora a serviço de posições políticas opostas. Duas posições especulares, assim Toni Negri e Michael Hardt (teóricos considerados ponto do referimento para o movimento mundial antiglobalização) foram para muitos elementos complementares a Iper-globalistas como Ohmae, Gray ou Giddens. No famoso livro Imperio, Toni Negri e Michael Hardt descreviam a globalização como um «processo definitivo e irreversível» através do qual o modo de produção capitalista se reforma diante da impossibilidade de sobreviver com as velhas formas. Nesse processo, os fenômenos de concentração e centralização, assumindo um caráter transnacional – na composição da propriedade, da distribuição territorial dos processos produtivos, das transações financiarias – teriam enfraquecido de maneira irreversível as estruturas das economias nacionais, até anular grande parte das funções tradicionais do Estado-nação. A globalização teria limitado as possibilidades do Estado de incidir nas leis da economia com os seus instrumentos tradicionais (taxas, tarifas alfandegárias, planejamento dos investimentos públicos). Isso teria produzido consequências negativas nas políticas de redistribuição da riqueza produzida e na tutela dos direitos sociais. Umas das caraterísticas mais importantes desse processo, portanto, seria o deslizamento do papel estatal para uma nova realidade chamada «Imperio» que surgiria do «crepúsculo da soberania moderna»[12]. Nessa realidade, o papel protagonista seria desenrolado pelas tecnocracias dos organismos supranacionais, que não só decretariam a superação do Estado-nação, mas teriam determinado uma diminuição da função hegemônica dos EUA. Desde o prefácio, Negri e Hardt afirmam: «os Estados Unidos não são mais o centro de um projeto imperialista; e, efetivamente, nenhum Estado-nação pode fazê-lo hoje. O imperialismo está acabado. Nenhuma nação será mais potência mundial como as nações da Europa moderna foram». O que aconteceu nos anos depois a publicação desse livro parece dizer coisas bem diferentes e a categoria do imperialismo para muitos estudiosos segue a ser dramaticamente atual, por isso, já no curso do 2002, ambos os autores começaram a corrigir as próprias teorias falando de «golpes de cauda do imperialismo», para explicar o papel dos EUA nos acontecimentos do Afeganistão e do Iraque. Apesar da tarefa radical e contestadora da ordem constituída, provavelmente, os dois autores sofreram a hegemonia da ideologia globalista dos neoliberais, seja para a ideia da globalização, seja para a representação a-nacional dos organismos supranacionais como o FMI ou a Banca Mundial. Isso, em parte, explica sobre o plano teórico a fraqueza das posições do movimento internacional não-global e a crise na qual ele foi envolvido depois do 2003.
Bibliografia.
- Acocella, Globalizzazione e Stato sociale, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Barman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Editori Laterza, Bari, 1999
- Bairoch, Economia e storia mondiale: miti e paradossi, Milano : Garzanti, 1998
- Bairoch, Diagnostic de l’evolution economique du tiers-monde 1900-1968, par. – 4 ed. rev
Paris, Gauthier-Villars, 1970. - Beck, Che cos’è la globalizzazione: rischi e prospettive della società planetaria, Carocci Editore, Roma, 1999.
- M. Blaut, The colonizer’s model of the world. Geographical diffusionism and Eurocentric history, New York, Guilford Press, 1993.
- M. Blaut, Eight eurocentric historians, Librum Editora, Campinas, 2013.
- Chomsky, Sulla nostra pelle, Tropea Edizioni, Milano, 1999.
- Cohen, Ricchezza del mondo, povertà delle nazioni, Eidizioni di comunità, Torino, 1999.
Culture e conflitti nella globalizzazione, a cura di Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri. Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2002
- Del Debbio, Global, Mondadori, Milano, 2002.
- Del Debbio, No global, new global: etica e governo dei cambiamenti, Fondazione Achille e Giulia Boroli, Milano, 2006.
F . Engels, Sul materialismo storico, Editori Riuniti, Roma
Esercizi di potere. Gramsci, Said, e il postcoloniale. A cura di I. Chambrers, Universale Moltemi, Roma, 2006.
- Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2000.
- Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli Milano, 1992.
- Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2000.
- Giddens, The consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990.
- Giddens, Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000.
- Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 1975.
- Habermass, La costellazione postnazionale, Feltrinelli, Milano, 2000.
- Held, Democrazia e ordine globale, Asterios, Trieste, 1999.
- Held, Modelli di democrazia, Mulino Bologna, 1989.
- Hilferding, Il capitale finanziario, Feltrinelli, Milano, 1976.
- Hirst, G. Thompson, La globalizzazione della economia, Editori Riuniti, Roma, 1997
- J. Hobsbawm, Anni interessanti, Autobiografia di uno storico. Rizzoli, Milano, 2002.
- J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780 : programma, mito, realtà. Einaudi, Torino, 2002.
Eric J. Hobsbawm, I banditi. Il banditismo sociale nell’età moderna. Einaudi, Torino, 2002.
- J. Hobsbawm e P. Bairoch, L’età contemporanea, Einaudi, Torino, 1996.
- Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1994.
- A. Hobson, L’imperialismo, (a cura di) L. Meldolesi, Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1974.
- Klein, No Logo, Rizzoli, Milano, 2012.
- Krugman, Economisti per caso, Garzanti, Milano, 2009.
- Lafay, Comprendere la globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 1998.
La questione postcoloniale. A cura di I. Chambers e L. Curti, Liguori, Napoli, 1997.
- Latouche, L’occidentalizzazione del mondo, Bollati, Torino, 1992
- I. Lenin, Opere Complete, Editori Riuniti, Roma, 1967.
- I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, La Città del sole, Napoli, 1994.
- Luttwak, La dittatura del capitalismo, Mondadori, Milano, 1999.
- Mander, E. Goldsmith, Glocal. L’alternativa alla globalizzazione, Arianna Editrice, Bologna, 1998.
- Marx, Il Manifesto del partito comunista, Editori Laterza, Bari
- Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1994
- Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma
- Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma.
- Massey, Luoghi e culture della Globalizzazione, UTET, Milano, 2001.
- McGrew, Global Transformation: Politics, Economics and Cuture, cambridge, Polity Press, 1999.
«Micromega», Globalizzazione, violenza e democrazia, n.4/2001.
- Negri, M. Hardt, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione. Rizzoli, Milano, 2002.
- Poland, Storia economica del Novecento, Il Mulino, Bologna, 2004.
Marco Revelli, La sinistra sociale, oltre la civiltà del lavoro, Bollati Boringhieri, Torino 1997.
Marco Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi, Torino, 2001.
- Rifkin, Il secolo biotech, Baldini & Castoldi, Milano, 2000.
- Robertson, Teoria sociale e cultura globale, Asterios, Trieste, 1999.
- W. Said, Cultura e imperialismo, Gamberetti Editrice, Roma, 1998/ Orientalismo, Bollati e Boringhieri, Torino, 1991.
- Shiva, Monocoltura della mente, Boringhieri, Torino, 1995
- Soros, La crisi del capitalismo mondiale, Edizioni Ponte delle grazie, Firenze, 1999
- Spybey, Globalizzazione e società mondiale, Asterios, Trieste, 1997.
- Chakravorty Spivak, Critica della ragione postcoloniale: verso una storia del presente in dissolvenza, Meltemi, Roma, 2004.
- Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002.
- Strange, Chi governa l’economia mondiale, Il Mulino, Bologna, 1998.
- Wallach, M. Sforza, WTO, Feltrinelli, Milano, 2001.
- Wallerstein, Il capitalismo storico, Einaudi, Torino, 1985.
[1] Karl Marx, Il Manifesto del partito comunista, Editori Laterza Bari, 1999 pag. 11
[2] Karl Marx, Il Capitale, Editori Riuniti Roma, 1994 , III volume pgg. 259- 292
[3] F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli Milano, 1992.
[4] A. McGrew, Global Transformation: Politics, Economics and Cuture, Polity Press, Cambridge, 1999.
[5] Culture e conflitti nella globalizzazione, a cura di Elisabetta Batini e Rodolfo Ragionieri. Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2002.
[6] D. Held, Democrazia e ordine globale, Asterios, Trieste, 1999
[7] Paul Bairoch, Economia e storia mondiale: miti e paradossi, Milano, Garzanti, 1998.
[8] J. A. Hobson, L’imperialismo, (a cura di) L. Meldolesi, Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1974.
[9] R. Hilferding, Il capitale finanziario, Feltrinelli, Milano, 1976.
[10] V. I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, La Città del sole, Napoli, 1994, pag. 54.
[11] Ivi, pag. 124.
[12] «No curso das últimas décadas, com a abolição dos regimes coloniais e ainda mais rapidamente após a queda das barreiras soviéticas em frente ao mercado do mundo ocidental, temos assistido a uma irresistível e irreversível mundialização das trocas econômicas e culturais. Ao lado do mercado mundial e dos circuitos mundiais da produção surgiram uma ordem mundial, uma lógica e uma estrutura nova do poder – em síntese, uma nova forma de soberania. O Imperio é o sujeito político que regula efetivamente as trocas mundiais, o poder soberano que governa o mundo»Toni Negri, Michael Hardt, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione. Rizzoli, Milano, 2002.